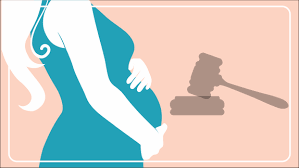Tempo de leitura: 17 minutos
No último dia 13 de agosto, a Folha de S.Paulo publicou uma reportagem intitulada “Justiça do Trabalho ignora STF, e ministros veem afronta à Corte“. O texto afirmava que juízes do Trabalho “defendem a carteira assinada“, enquanto ministros do Supremo “derrubam decisões nos temas da terceirização, pejotização e uberização“, e que tais ministros estariam “enfezados” com a Justiça do Trabalho. Afirma-se, ainda, que a Justiça do Trabalho estaria a “ignorar precedentes da corte de cumprimento obrigatório em casos que envolvem médicos, advogados, corretores de imóveis, além de franqueados e motoristas de aplicativo“.
Diz-se que, segundo Gilmar Mendes, o TST estaria a colocar “sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo“. Segundo o ministro, “a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político levam a resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais“.
Conforme a reportagem, Barroso também teria chamado a atenção “para o desrespeito ao STF, em reclamação contra o TST em caso que envolveria “a relação entre uma advogada autônoma e um escritório“. Segundo o texto jornalístico, o ministro teria dito que “a decisão reclamada ofendeu o decidido nos paradigmas invocados nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho“.
A reportagem diz ainda que “sentenças [sic] de juízes,desembargadores e integrantes do TST têm sido consideradas ultrapassadas e afrontosas“, e que a “posição reiterada da corte [Supremo] seria no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego“.
Pois bem.
A reportagem traz inverdades e questões que devem ser contextualizadas.
Quanto às inverdades, a maior delas é afirmar que a Justiça do Trabalho ignora o STF. Muito pelo contrário. A Justiça do Trabalho aplica o Direito do Trabalho, observando-se a Constituição, a legislação trabalhista e os tratados internacionais, em atenção às provas dos autos, que, no processo e no direito do trabalho, são importantíssimas (verdade real).
O que ocorre, com frequência quase diária nos últimos anos, é o descumprimento da Constituição, das regras da teoria processual, e o menoscabo do processo trabalhista, mormente, no que concerne ao artigo 114, que arrola a competência da Justiça do Trabalho. Como também não é verdade afirmar que a Justiça do Trabalho está ignorando precedentes que não existem.
Irrelevante é afirmar que ministro A ou B estaria “enfezado” com a Justiça do Trabalho. Trata-se de conotação sensacionalista e extrajurídica. Julgador não pode se enfezar por se atarefar. A reclamação tem assento constitucional e as partes dela farão uso, como o magistrado ou o tribunal também faz seu papel em proferir suas decisões com lastro no direito, conforme seu entendimento motivado na lei. Julgar as medidas impugnativas daí decorrentes é papel regular de quem ocupa as instâncias superiores.
Mas o foco do assunto se cinge a contextualizar as colocações e queixumes tratados no texto, sendo importante desenvolver, nos limites deste artigo, cinco assuntos: a competência da Justiça do Trabalho, a teoria da asserção, a teoria do reconhecimento do vínculo de emprego, a teoria dos precedentes, e a evolução histórica do direito do trabalho (e da própria sociedade humana). Especialmente este último tema, de tempos em tempos, sofre ação ideológica dos ciclos de poder, que acaba permeando por toda a estrutura política do Estado brasileiro, incluindo o STF, o mais político dos tribunais.
No que concerne à competência da Justiça do Trabalho, remonta-se a dois momentos jurídicos: o primeiro deles, anterior à própria EC45/2004, e o segundo, à ADI 2.135. Este autor já tratou de ambos diversas vezes, em textos publicados em sítios virtuais e reproduzidos em revistas jurídicas pelo Brasil.
Quanto ao primeiro momento, tem-se a velha confusão que se faz entre Justiça do Trabalho e “Justiça de Emprego”. Há mais de 18 anos, a JT deixou de julgar apenas vínculo de emprego e seus juízes não são mais “juízes de CLT”. Não importa o direito aplicável ou a categoria profissional envolvida: se é relação de trabalho, e não de consumo, a competência é da Justiça do Trabalho, não importando se será aplicada ao mérito a CLT, lei específica ou o Código Civil. Apenas a lei pode ressalvar a competência da Justiça Comum, com previsão expressa, por autorização da própria Constituição (artigo 114, IX).
Assim sendo, não existe categoria imune à Justiça do Trabalho. Não se faz analogia em cadeia, entendendo-se, por exemplo, que como o representante comercial é um trabalhador autônomo, cuja relação jurídica é analisada pela Justiça estadual (e isto é previsto pela lei apenas em tese), todos os demais trabalhos autônomos também seriam analisados por lá.
Trata-se de uma analogia pueril, e que descumpre a Constituição. Não existe categoria que não pode ser julgada pela Justiça do Trabalho. Tampouco cabe fazer analogia com a terceirização, que é um instituto jurídico completamente diverso, não tendo nada a ver com trabalho autônomo, como foi feito com relação ao transportador autônomo de carga, na ADC 48. Repisa-se isto adiante.
Quanto ao segundo momento, exsurge a ADI 2.135/MC como o começo da grande bagunça hermenêutica que fez o Supremo quanto à competência da Justiça do Trabalho no vínculo do serviço público, que perdura até os dias atuais. Por entenderem que a EC19/1998 era formalmente inconstitucional, excluíram da história jurídica o regime dual estabelecido pelo artigo 39 da CF/88, e todos os empregados públicos passaram a ser estatutários, a contrario sensu da própria realidade social.
Mesmo aqueles de ente federado sem estatuto, contratos sem concurso, para os quais deram a curiosa solução de serem temporários; espécie de servidor que, por lei seca da Constituição, só pode ser o sujeito contratado por necessidade temporária e de excepcional interesse público (artigo 37, IX). Inobstante, todo mundo virou “temporário estatutário”. E foi tudo para a Justiça Comum. Durante os debates, e isto está assentado no julgado da liminar, um ministro chegou a afirmar que celetista não precisava prestar concurso (!!).
A partir daquele julgado liminar se construiu toda uma jurisprudência contraditória, ilógica, que ninguém entende mais. O auge foi atingido com a pérola fixada na Tese nº 1.143, segunda a qual “é da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por empregado público que pede parcela administrativa“. Ora, se o sujeito é empregado, como está a pedir parcela administrativa? E se o fizer, a demanda é improcedente, e não remetida a outra Justiça.
A competência é fixada pela natureza da relação jurídica aduzida na causa, e não pelo que se pede, que será procedente ou não. Atualmente, a ADI 2.135 está tendo o mérito julgado em definitivo, no que se espera que o Supremo conserte a confusão.
Chega-se ao segundo tema: o da teoria da asserção – assunto que se estuda no quarto período do curso de direito. É pacífico no direito brasileiro que a competência jurisdicional ratione materiae é ditada, de início, pelo pedido e causa de pedir. Se a matéria se mostrar especializada, cabe à Justiça respectiva confirmar se o é.
Noutras palavras, se o trabalhador, qualquer que seja (empregado, autônomo, eventual, voluntário, estagiário, doméstico, rural, etc.), declina na exordial que os elementos caracterizadores do vínculo empregatício estão presentes em sua relação de direito material, a competência é da Justiça do Trabalho, nem que seja, posteriormente, no mérito, para entender que não estão e se declarar incompetente (pr. da kompetenz-kompetenz). Isso é basilar. É regra estruturante de processo civil.
Portanto, mais uma vez: não existe categoria laboral imune à Justiça do Trabalho. Não tem o menor fundamento jurídico entender que, por ser categoria X ou Y, por ser advogado ou médico, por ser pejotização ou uberização, a Justiça do Trabalho não pode analisar o caso concreto. E se o juiz de direito entender que há o vínculo? Remete os autos à Justiça do Trabalho com o mérito especializado já julgado?
Terceiro ponto: o conhecimento da teoria do reconhecimento do vínculo de emprego. Se o juiz, na análise do caso concreto, entende que os elementos do artigo 2º-3º da CLT estão presentes, o sujeito é empregado, não importando a roupagem formal sobre o que esteja assentada a relação jurídica (autônomo, terceirizado, eventual, estágio, o que for).
Tratar-se-á de burla à legislação trabalhista, quanto a que a própria lei manda que as autoridades administrativas ou judiciais especializadas atentem, e envidem esforços para coibir. É lei (CLT, artigo 9º). E uma vez configurado o vínculo, o trabalhador fará jus ao rol de direitos presentes no artigo 7º da CF/88, sob pena de inconstitucionalidade nas relações horizontais e violação a direitos fundamentais. E aqui não existe — sem exceção — categoria laboral imune a esta análise; mesmo aquela cuja lei específica diga o contrário, sob pena do ordenamento incentivar sua própria violação.
Se o sujeito é autônomo, deve ter autonomia para prestar o serviço. Se a empresa preferiu contratar PJ, não pode subordinar o trabalhador. Isso é elementar em direito do trabalho. E só se verifica isto em fatos e provas.
Quarto tema: o da teoria dos precedentes. Este autor também já escreveu sobre o mesmo, em texto publicado nos sítios jurídicos. A teoria dos precedentes, assim abduzida do common law americano e juridicizada em definitivo no Brasil com o CPC/15, não comporta analogia, porquanto o distinguishing é preceito próprio da teoria.
Mesmo que a matéria fosse abstrata, e não probatória, o precedente só se aplicaria se houvesse identidade jurídica, pois, não o havendo, é obrigatório que se faça a distinção. Isto é, mais uma vez, básico. É a aplicação da teoria, pura e simples. Se a Justiça do Trabalho julgar casos concretos que não se amoldam à tese que serve de precedente, igualmente estaria incorrendo em error in judicando.
Dessa forma, não há que se falar em aplicar “precedente” como reação em cadeia (precedente que serve pra este caso, que serve pra este, que serve pra este). O quanto decidido na ADPF 324 (licitude da terceirização em atividade finalística) não se presta a concluir que teria sido fixada pelo Supremo uma tese genérica no direito brasileiro no sentido de que outras formas de trabalho que não a de emprego são permitidas no país e que, por isso, qualquer decisão que não aceite a autonomia daquele trabalho contraria jurisprudência vinculante. Ora, precedente, ou se aplica ao caso, ou não é precedente. Bem como é óbvio que tais formas de trabalho são permitidas. A Justiça do Trabalho as conhece melhor do que ninguém. Aliás, é da competência da Justiça do Trabalho julgar essas relações, não cabendo concluir que, por se tratar de trabalho autônomo, a competência será da Justiça Comum. Só o será se a lei específica assim previr, autorizado que está pelo próprio artigo 114 da CF/88 o legislador a fazer essa redistribuição.
Tampouco existe, nem poderia, precedente que diga que profissão essa ou aquela não pode ter o vínculo reconhecido, porque a questão é probatória. Qualquer precedente só poderá ser construído em tese. Não existe precedente que “adivinhe” caso concreto. O que o Supremo pode fazer em seus precedentes ou súmulas é fixar teses. Tese se fixa em abstrato. É dizer: a relação jurídica de trabalho tal ou qual, em tese, não se amolda aos caracteres da relação de emprego, a não ser que os elementos da relação de emprego estejam presentes no caso concreto, à vista dos fatos e provas revelados na lide.
Veja-se que há uma série de erros de entendimento do direito, a maioria básicos, que culminaram com uma temerária jurisprudência a violar a Constituição e tendente a prestigiar a precarização do trabalho. O Supremo hoje é um tribunal que causa receio à comunidade juslaboral quando surge expectativa de julgamento de uma questão trabalhista. É um tribunal cujos ministros não refletem sobre o campo trabalhista, suas implicações sociais, e que mandam, sem cerimônia, suspender milhares de execuções em favor de pessoas que trabalharam, não receberam e não têm como prover seu sustento, ou determinam remessa de matéria trabalhista a uma justiça incompetente, em decisão monocrática, em detrimento de acórdãos (decisões colegiadas) dos tribunais regionais do trabalho, à escusa da aplicação de precedentes imaginários, ignorando o acervo probatório presente nas ações trabalhistas. Inventou-se a neoliberal e criativa “reclamação constitucional contra matéria probatória trabalhista”. E o polo patronal já se apercebeu da brecha. Agora, haja enfezamento.
Feitas estas análises, para além do direito, resta a ideologia.
O país vive o interregno de um ciclo político de ultraliberalismo. Já se viu outras vezes. Sem novidade. De 20 em 20 anos, aproximadamente, o revezamento de linha ideológica no poder emana suas ideias e radicalismos em todas as antenas sociais dispostas a captá-las e a reproduzi-las. E isto inclui membros do Judiciário. Principalmente em tribunais políticos, como são as supremas cortes, e tribunais compostos por magistrados formados em direito comum.
Isso se agrava, aliás, quando tais magistrados são oriundos da advocacia, cujos escritórios, por si só, são também empresas. Não se espera desses julgadores uma visão juslaboral, mas uma visão econômica. Visões econômicas do direito levam a argumentos extrajurídicos (estatísticos, monetários, consequencialistas). Como bem dito pela juíza do trabalho Silvia Isabelle do Vale, em seu texto “As decisões trabalhistas no STF: a nossa Era Lochner”, o que se vê hoje “é uma Corte Suprema extremamente ativista e vanguardista, alinhada com toda a doutrina pós-positivista, quando decide direitos de liberdade, mas extremamente conservadora quando decide sobre direitos fundamentais dos trabalhadores, esquivando-se de guardar coerência com a teoria dos direitos fundamentais“.
Assim como o direito e a Justiça são contramajoritários no campo sociopolítico com relação ao direito penal, são na esfera trabalhista, com relação a implicações ideológicas de cunho liberal. Os direitos fundamentais sociais estão na Constituição, são cláusulas pétreas, e a Justiça do Trabalho não está para agradar o poder econômico. Está para civilizar o mundo do trabalho; este por sua vez, intrínseco ao sistema capitalista, que é um sistema de mais-valia. Cuida-se de mecanismo inarredável. O detentor do capital quer usufruir do trabalho humano, que para ele é um custo, pelo menor valor que puder despender. Isso é um mecanismo inseparável do sistema.
Desde os primórdios da revolução industrial, todos os conflitos passaram pela dualidade “tempo vs. dinheiro“. O empresário deseja o maior quantum laboris pelo menor preço. Para ele, o ser humano é despesa. Se não pudesse despender, não o faria. Por outro lado, o polo trabalhador luta por jornadas civilizadas e maiores salários; o exato oposto.
Essa dualidade histórico-evolutiva foi tratada na base, na principiologia do direito do trabalho. O Direito do Trabalho surgiu disso. Da exploração, da escravidão análoga, da miséria, da fome, da morte do trabalhador. E a Justiça do Trabalho, por sua vez, surgiu para fazer valer o direito do trabalho. É uma questão principiológica, em suma. Foi necessário criar-se uma Justiça especializada para entender aquela dualidade de forma aprofundada, alicerçada em princípios, e conferir um nível civilizatório a essas relações.
Porquanto, 260 anos antes na história da humanidade, seres humanos, incluindo mulheres, crianças e idosos, morriam trabalhando. E isto, por mais absurdo que pareça, ainda ocorre nos dias atuais: em fazendas “pop” escravocratas, em minas de carvão, nos garimpos, nos açougues, nos prostíbulos internacionais, no trabalho doméstico. Não é romantismo, não é invencionice, não é “sindicalismo de toga”, não é “conto do barbudo alemão”.
É por estes aspectos que a Justiça do Trabalho está para garantir aquele patamar civilizatório mínimo, na expressão cunhada pelo jurista e ministro Maurício Godinho Delgado. É para fazer cumprir a lei trabalhista, dentro de um sistema capitalista cuja tendência é descumpri-la. A Justiça do Trabalho não se coloca contra novas formas de relação de trabalho. Está atenta, contudo, às eternas tentativas do poder econômico de precarizar essas relações. É seu dever institucional.
A Justiça do Trabalho há de fazer valer o direito do trabalho, a civilidade nas relações sociais laborais, a Constituição da República e a própria integridade do ser humano, para quem se atribui o início, o meio e o fim do direito. A Justiça do Trabalho, como os demais tribunais, tem assento na Constituição e não se constitui em departamento de nenhum outro tribunal, não se cogitando de que suas decisões sejam afrontosas a quem quer que seja. Na Justiça do Trabalho o trabalhador brasileiro encontra sua cidadania. E, só por isso, merece respeito. Além de ser, disparadamente, com léguas e léguas de distância, a justiça mais célere do país.
Não é possível fugir-se ao mecanismo natural do capitalismo e, portanto, do eterno dualismo capital vs. trabalho. Nem é preciso. Não é ele o problema. A questão é cultural. Seria elevado procurar entender as relações de trabalho, conviver com trabalhadores precarizados, por-se na pele de hipossuficientes e, com boa vontade, estudar o Direito do Trabalho e a própria História, a bem da sociedade brasileira.